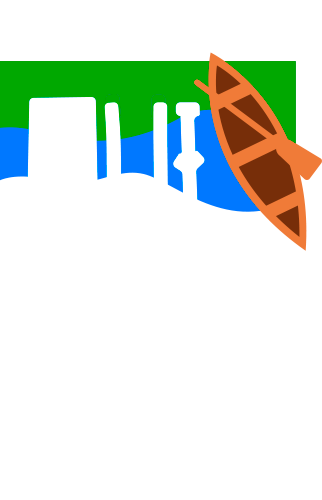No porto da Bahia, ainda no século XVI, começou a despontar uma intensa atividade de reparo de naus das carreiras atlânticas. Impulsionou-se, em decorrência, as requisições de madeiras e peças de carpintaria naval, dando margem a uma próspera atividade extrativista.
O fato de se constituir em uma floresta tropical fez da Mata Atlântica brasileira um imenso reservatório de madeiras de propriedades as mais variadas. Bem cedo, os colonos se certificaram de que em um único hectare era possível encontrar uma média de cem espécies diferentes de árvores, todas estranhas aos europeus. Os colonos souberam fazer proveito dos conhecimentos indígenas sobre as diferentes propriedades das madeiras que os próprios nativos já usavam na confecção das suas rústicas embarcações.

Sucupira, vinhático, angelim vermelho e amarelo, louro, jequitibá, oiti, pindaíba, potumuju e tapinhoã eram algumas das espécies preferidas pelos estaleiros. De todas elas, a oferta era abundante nas matas da Bahia. Não obstante, desde o primeiro Governo Geral, a Coroa reservara para si o monopólio sobre os chamados “paus reais”, o que não evitou a larga exploração destes recursos por particulares. Com a ampliação do repertório das espécies consideradas estratégicas na política colonial, as madeiras de construção passaram a ser qualificadas como madeiras-de-lei, ou seja, submetidas a uma normatização que só permitia a exploração por particulares com o consentimento das autoridades.
Quando a Coroa decidiu por uma administração direta dos cortes de madeira para atender as encomendas oficiais, no primeiro quartel do século XVIII, a forma adotada foi a das feitorias e os primeiros núcleos de retirada (cortes) se localizaram nas matas ao redor da vila de Cairu, na então capitania de Ilhéus. Além da proximidade em relação ao porto de Salvador, aquele território possuía grandes reservas de matas ricas em madeiras de construção e era recortado por vários rios, que permitiam o escoamento das madeiras durante todo o ano, não dependendo de monções favoráveis.
Para a gestão, nomeava-se um administrador que ficava sediado na vila de Cairu, tendo para isso o apoio da Câmara local. O representante da Coroa, bem à maneira clientelística da época, elegia um grupo seleto de fabricantes e mestres-carpinteiros. Os locais dos “cortes” eram escolhidos considerando a logística do escoamento da produção. O sítio perfeito seria aquele servido por um ribeiro conectado ao caminho do porto marítimo, geralmente no seu limite navegável, possibilitando, assim, explorar todo o território marginal entre os “cortes” e a foz. Naqueles locais, instalavam-se as serrarias, onde as toras cortadas na mata seriam transformadas em peças para atender as encomendas do estaleiro de Lisboa.

O contingente de trabalhadores arregimentado naqueles sítios deu ocasião ao desenvolvimento de arraiais que, ao longo dos anos setecentos, evoluiriam para a condição de vilas ou povoados, como é o caso dos atuais municípios de Valença, Nilo Peçanha, Taperoá, Igrapiúna e alguns de seus distritos, como Maricoabo, Taberoê (Itaberoê) e Camorogi. Outros núcleos urbanos do atual Baixo Sul da Bahia se desenvolveram vinculados às zonas de cortes, como a antiga vila indígena de Santarém, atual município de Ituberá, e a aldeia de São Fidelis, território hoje pertencente à cidade de Valença.
Concentrada nesses antigos aldeamentos, a população indígena perfazia o grosso da mão de obra empregada na atividade madeireira, afinal, eram os nativos que conheciam as espécies como ninguém e dominavam as técnicas de derrubada e falquejo. Naturalmente, sabiam viver e se movimentar no ambiente florestal e o labor do machado era muito mais atrativo aos homens daquela cultura (a indígena), que designava às mulheres o trabalho da lavoura. Há de se considerar também que o valor correspondente ao aluguel de um plantel de cativos era muito superior ao montante correspondente à remuneração dos indígenas, que trabalhavam no sistema de jornadas, recebendo seus “jornais” (diárias) ao cabo de uma semana. Por essa razão, só encontramos escravizados trabalhando nas serrarias, nunca no interior das matas.
Por: Marcelo Henrique Dias – Doutor em História Social Moderna pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com estágio pós-doutoral no Instituto de Ciências Sociais/Instituto Universitário de Lisboa (ICSTE). É professor Titular da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC, Ilhéus-BA), pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Bahia (NEPAB) e integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em História da UESC (Mestrado em História).
![]() Um Império de Ervas, Madeira, Farinha e Indústria ao Sul da Bahia
Um Império de Ervas, Madeira, Farinha e Indústria ao Sul da Bahia
CABRAL, Diogo C. Na presença da floresta: Mata Atlântica e história colonial (Rio de janeiro: Garamond, 2014).
DIAS, Marcelo H. “Árvores e madeiras do litoral brasileiro: usos e exploração econômica no período colonial para além do pau-brasil”, in Lorelai Kury (org.) Árvores, florestas, madeiras: ensaios históricos (Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio, 2022) 18-57.
DIAS, Marcelo H. Farinha, madeiras e cabotagem: a capitania de Ilhéus no antigo sistema colonial (Ilhéus: Editus, 2011).
LAPA, José R. A. A Bahia e a Carreira da Índia (São Paulo: Companhia Editora Nacional/USP, 1968).
MILLER, Shawn. Fruitless tress. Portuguese conservation and Brazil’s colonial timber (Stanford: Stanford UP, 2000).
Projeto conduzido pelo Grupo de Pesquisa NEABI do IF Baiano (CNPq), sob coordenação das docentes Dra. Nelma Barbosa e Ma. Scyla Pimenta, no âmbito do curso de Especialização em Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-brasileira na Educação (REAFRO) e do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (IF Baiano Campus Valença).
Contato: nelma.barbosa@ifbaiano.edu.br